A reportagem de Catarina Santos começa com referência ao drama vivido por milhares no Mar Mediterrâneo, também conhecido por mar da morte ou mar da vergonha. Automaticamente, a memória posiciona-me em anos anteriores à viagem de Samu ou de Peter, quando corpos desaguavam nas praias de Espanha e os seus sobreviventes eram literalmente despejados no deserto, sem preocupação das autoridades espanholas relativa à sua sobrevivência, gesto com qual a comunidade europeia esteve em concordância, mais que não fosse pela ausência das suas vozes em uníssono protesto.
A esses que não chegaram com vida ou que em vida foram condenados a voltar para o nada, apenas podemos oferecer o não esquecimento e uma ação presente, coerente e persistente com os direitos humanos.
Treze anos após os acontecimentos de que tenho memória, um corpo, mais parecido com o das nossas crianças deu à costa e depressa se tornou o símbolo de uma viagem arriscada, para um destino que ainda continua a ser incerto.
No que respeita a reportagem, estranhamente, sou surpreendida pelo discurso de Samu cuja história não é completamente conhecida. Ao embarcar para destino incerto, Samu é levado para Itália. Perante o medo que o rodeia, Samu não está concentrado no que o espera, mas nas razões que o levaram a abandonar, primeiramente do seu país (Gana) e depois, o país no qual se tinha refugiado e onde estava a trabalhar (Líbia). O choque é o estado emocional mais referido pelas autoridades, a par de uma debilidade física provocada por tamanha provação.
A reportagem evolui, permitindo-nos a visita possível a um campo de acolhimento, o CARA. É uma pequena cidade, com serviços pensados entre os cuidados básicos de saúde, alimentação e alojamento, às necessidades de documentação, formação (como do conhecimento da língua do país que os acolhe) e de contato com os seus familiares (com recurso a cabines telefónicas e a postos de internet). Peter está feliz, mas aguarda pela sua documentação e legalização, um passaporte para a continuidade, numa vida que se interrompeu e que assim permanece, à espera.
Acreditando que todo o projeto se inicia com um diagnóstico, acredito que a sua implementação tem por base diferentes modelos de intervenção. Numa primeira instância foi necessário mobilizar recursos para apoiar as pessoas em crise (modelo de Intervenção em Crise), fase essa que corresponde à triagem possível dos seus problemas e à recuperação do equilíbrio emocional. Imagino-os programados para se defenderem, em constante alerta e sobressalto. É preciso que tenham tempo para recuperar e realizar, física e psicologicamente, que já não se encontram em perigo imediato.
Posteriormente, é necessário ajudá-los a recuperar a sua identidade, reconhecer a sua cultura e validar as suas competências. Tal não corresponde a uma resposta única, isolada no tempo. Estes processos são demorados e obedecem, com vista à sua inclusão, a um encadeamento de ações, que devem ser ajustadas (e reajustadas) a cada indivíduo. O modelo sistémico é modelo de intervenção social que mais se correlaciona com as necessidades destas pessoas, dada a sua abrangência numa realidade complexa, cujas dimensões estão interligadas e interdependentes.
Pensar Portugal no acolhimento destas pessoas, assusta-me no sentido do medo de falhar para com elas, quando já sofreram tanto. Tal pensamento advém sobretudo da falta de credibilidade de um sistema político pouco transparente e que economicamente, em resultado da sua incompetência, nos têm sujeitado a uma vida de grandes sacrifícios, marcada por retrocessos a todos os níveis, dos cuidados básicos (com a degradação do Sistema Nacional de Saúde) às leis laborais (que não permeiam o fruto do trabalho). Se o refugiado, após a primeira linha de intervenção, puder aceitar esta nossa realidade, então, talvez seja possível desenhar uma ação conjunta, promotora de uma vida em que a vida não esteja em risco e o inesperado seja uma fatalidade tão banal como a avaria de um eletrodoméstico.
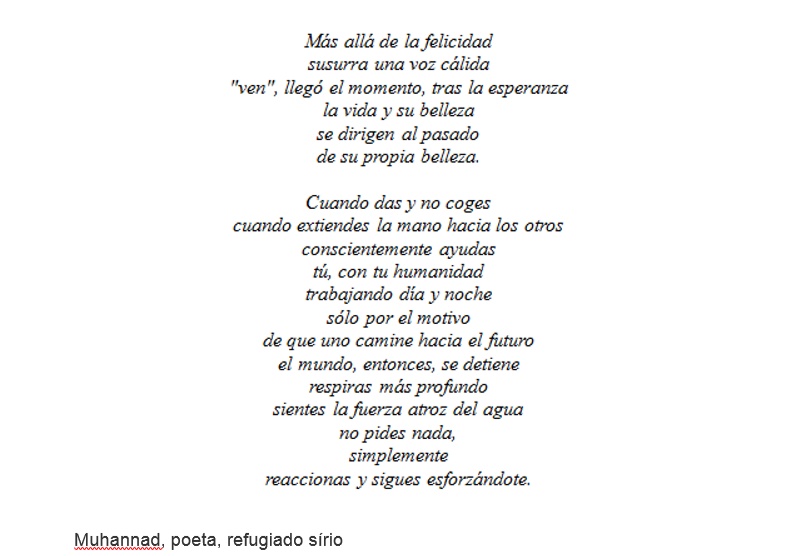

Redes Sociais